A nova Aliança: Teologia da Aliança no Novo Testamento: escritos escatológicos, teológicos e marianos do Cardeal Ratzinger.
- bozumiiiiii
- 29 de jan. de 2025
- 24 min de leitura
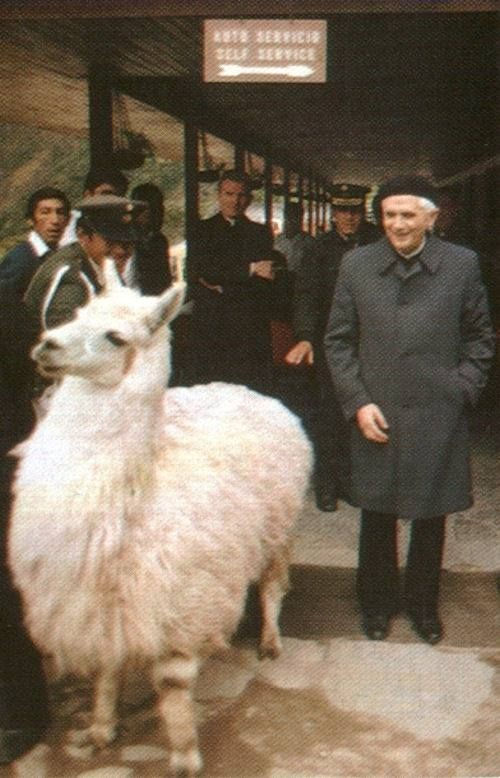
TESTAMENTO OU ALIANÇA? DA ANÁLISE DO TERMO À QUESTÃO REAL
Ao pequeno livro que constitui o fundamento da fé cristã chamamos “Novo Testamento”. Esse livro, porém, remete sempre a outro, que é chamado simplesmente “a Escritura” ou “as Escrituras”, ou seja, a Bíblia, a qual se desenvolveu ao longo da história do povo judaico até Cristo, e a que os cristãos chamam “Antigo Testamento”. O conjunto das Escrituras, em que se apoia a fé cristã, apresenta-se, assim, como um “testamento” de Deus para os homens, composto, em duas fases, como manifestação da sua vontade ao mundo. A palavra “testamento” não é tomada de fora da Escritura, é, antes, deduzida dela mesma; o título, dado aos dois livros pelos cristãos, não quer apenas descrever, posteriormente, o sentido essencial do livro, mas também pôr em evidência o fio condutor interno da própria Escritura, e nomear a palavra fundamental que constitui a chave do todo. Nessa medida, esse termo coloca-nos, de algum modo, perante a tentativa de dizer, de maneira sintética – numa expressão tomada da sua própria origem fundante –, a “essência do cristianismo”. Mas será, no fundo, a palavra latina testamentum a escolha correta? Traduz ela, exatamente, o vocábulo do texto hebraico e do texto grego que lhe está subjacente, ou conduz a uma falsa pista? A problemática da tradução ressalta claramente do contraste entre a tradução da versão latina antiga e a de São Jerônimo. Enquanto a primeira diz testamentum, Jerônimo decidiu-se por foedus ou pactum. Impôs-se a designação “testamento” como título do livro, mas quando falamos do conteúdo mesmo das coisas, seguimos Jerônimo e utilizamos, quer na teologia, quer na liturgia, a expressão: antiga e nova Aliança. Mas o que é que está correto? Com efeito, de que fala a Bíblia quando utiliza esse termo? Sobre a etimologia da palavra hebraica berith não se conseguiu qualquer acordo entre os eruditos; o significado dado à palavra pelos autores bíblicos só pode ser descoberto a partir do conteúdo geral dos textos. Uma importante indicação para o entendimento do termo é o fato de os tradutores gregos da Bíblia hebraica terem traduzido por διαθήκη 267 das 287 passagens nas quais aparece o termo berith; portanto, não através do termo σπονδή ou ainda o συνθήκη, o que, em grego, seria o equivalente a pacto ou aliança. O seu conhecimento teológico dos textos levou-os, manifestamente, a concluir que, nos fatos bíblicos, não se trata de uma syn-theke – de um acordo recíproco –, mas sim de uma dia-theke, de uma disposição na qual não intervêm duas vontades, mas uma vontade estabelece uma ordem. A investigação exegética está, hoje, convicta – tanto quanto posso observar –, de que os autores da versão dos Setenta (LXX) entenderam corretamente o texto bíblico. O que chamamos “Aliança” não deve nunca ser entendido, na Bíblia, como relação simétrica de dois parceiros que entram numa relação contratual um com o outro e se impõem mutuamente deveres e sanções; essa ideia de parceria ao mesmo plano é incompatível com a imagem bíblica de Deus. Antes, os autores da versão dos LXX pressupõem que o homem não seria, de modo algum, capaz de, por si só, estabelecer uma relação com Deus, menos ainda de lhe dar algo e dele receber algo em troca, sobretudo de lhe impor obrigações como o correspondente às ações empreendidas por eles mesmos. Ao se chegar a uma relação entre Deus e o homem, ela só pode acontecer mediante a livre iniciativa de Deus, cuja soberania não é assim ofendida. Trata-se, portanto, de uma relação inteiramente assimétrica, pois Deus, em relação à criatura, é e permanece o totalmente Outro; a “Aliança” não é um contrato recíproco, mas sim um dom, um ato criador do amor de Deus. Com esta última afirmação, superamos, sem dúvida, a questão filológica. Embora a figura da Aliança reproduza os contratos assírios e hititas, nos quais o suserano impõe aos vassalos o seu direito, a Aliança de Deus com Israel é mais que um contrato de vassalagem: o rei Deus não recebe nada dos homens, mas dá-lhes, na realidade, no dom do seu direito, o caminho da vida. Neste ponto, impõe-se uma questão. O tipo de aliança veterotestamentária, do ponto de vista formal, é exatamente análogo ao tipo de contrato de vassalagem e à sua estrutura assimétrica. Mas a dinâmica da ideia de Deus transforma, a partir de dentro, a natureza do processo, o sentido da imposição soberana. E se, então, a verdadeira natureza do que acontece não é já vista a partir do contrato de Estado, mas é, antes, descrita pela imagem do amor esponsal, como sucede nos profetas – da forma mais comovente porventura em Ez 16 –, se o ato de contrato se apresenta como história de amor entre Deus e o povo eleito, continua, então, a existir a assimetria na sua antiga forma? É certo que também o casal, no antigo Oriente, não era uma parceria, mas, segundo a concepção patriarcal, o homem era visto como o senhor. Todavia, a representação profética do amor apaixonado de Deus supera o que se apresentava na pura estrutura jurídica do Oriente. Por um lado, a visão de Deus devido à sua infinita alteridade tem de surgir com a mais radical acentuação da assimetria; por outro, aparece a verdadeira natureza desse Deus ao criar uma inesperada bilateralidade. Aqui, é sugerida uma primeira perspectiva sobre a consideração filosófica do tema da Aliança na história da teologia cristã. A aliança, enquanto imagem proveniente da esfera do direito, corresponde filosoficamente à categoria de relatio. De um ponto de partida completamente diferente, e quase de sinal contrário, era claro para o pensamento antigo que a relatio entre Deus e os homens apenas poderia ser assimétrica. A partir da lógica do pensamento metafísico, conclui-se, na filosofia grega, que o Deus imutável não pode contrair relações mutáveis, que são próprias do homem mutável. Na relação entre Deus e o homem, só se pode, por isso, falar de uma relatio non mutua, de uma relação de um ao outro sem reciprocidade; o homem relaciona-se com Deus, mas não Deus com o homem. Essa lógica parece inevitável. Eternidade exige imutabilidade, a imutabilidade exclui relações que ocorram no tempo e estejam ligadas ao tempo. Mas não nos diz a mensagem da Aliança justamente o contrário? Antes de prosseguirmos com as questões levantadas pela análise do significado do termo berith ou diatheke, temos de nos debruçar sobre os mais importantes textos do NT acerca da Aliança, que nos confrontam com uma ulterior questão: Como se diferenciam a “antiga” e a “nova” Aliança? Em que consiste a unidade, e onde está a diferença da ideia de Aliança nos dois Testamentos?
II. TEOLOGIA NEOTESTAMENTÁRIA DA ALIANÇA
Naturalmente, no quadro adotado, não posso tentar analisar toda a amplitude da teologia neotestamentária da Aliança. Apenas desejo focar mais de perto, a título de exemplo, alguns textos centrais das cartas paulinas, assim como o pensamento sobre a Aliança dos textos da última ceia. Aliança e alianças em SÂO Paulo Em Paulo, salta aos olhos, antes de mais, o modo resoluto como demarca a Aliança de Cristo da Aliança de Moisés, o que para nós significa, em geral, a diferença fundamental entre “antiga” e “nova” Aliança. Encontramos o mais acentuado confronto entre os dois Testamentos, em São Paulo, 2Cor 3,4-18 e Gl 4,21-31. Enquanto o termo “nova Aliança” deriva de uma promessa profética (cf. Jr 31,31), ligando, portanto, ambas as partes da Bíblia uma à outra, o termo “antiga Aliança” surge unicamente em 2Cor 3,14. A carta aos Hebreus, em contrapartida, fala da primeira Aliança (9,15) e designa de nova Aliança – a par dessa designação clássica – também a aionios, ou seja, a Aliança eterna (13,20), o que foi incluído no cânone da missa romana, nos relatos da instituição eucarística pela junção locutiva “nova e eterna Aliança”. Na 2ª carta aos Coríntios, Paulo coloca a Aliança de Cristo e a Aliança de Moisés em acentuada antítese, sendo uma a passageira e outra a permanente. Como distintivo da Aliança de Moisés surge, assim, o seu caráter provisório, que Paulo vê representado na pedra das tábuas da Lei. A pedra é expressão dos mortos, e quem permanece no domínio da lei de pedra permanece no âmbito da morte. Paulo deve ter pensado, então, na promessa de Jeremias, de que a Lei, na nova Aliança, seria inscrita no coração, como também na palavra de Ezequiel, de que o coração empedernido seria substituído por um coração de carne. Se no texto é fortemente salientado, em primeiro lugar, o “ser passado” da aliança moisaica, a sua caducidade, chega-se, no entanto, finalmente à utilização de uma nova e transformada perspectiva. A quem dirige o rosto para o Senhor, é-lhe tirado o véu do coração; e vê, então, o esplendor interior, a luz pneumática dentro da Lei, e assim a lê corretamente. A mudança de imagens, que em Paulo observamos frequentemente, não permite que se torne inteiramente claro o sentido da sua afirmação; mas na imagem do véu tirado surge, em todo o caso, transformada a representação da precaridade da Lei. Onde o véu do coração cai, manifestam-se a verdade e o definitivo da Lei; a própria Lei torna-se Espírito e, assim, idêntica à nova ordem da vida a partir do Espírito. A rigorosa antítese das duas Alianças, a antiga e a nova, que em Paulo é desenvolvida no terceiro capítulo da 2a carta aos Coríntios, tem, desde então, cunhado substancialmente o pensamento cristão, ao mesmo tempo que mal foi notada a sutil reciprocidade da letra e do espírito, que se exprime na imagem do véu. Mas, sobretudo, tem-se também perdido de vista que, em outros textos paulinos, o drama da história de Deus com os homens é apresentado em múltiplos níveis. No louvor a Israel, que Paulo formula no nono capítulo da carta aos Romanos, surge, entre os dons de Deus ao seu povo, também o seguinte: pertencem-lhe as “alianças”, o firmar das alianças. “Aliança”, aqui, aparece – conforme à tradição sapiencial – no plural. E, de fato, o Antigo Testamento conhece três sinais de Aliança – o shabbat, o arco-íris e a circuncisão. Correspondem a três graus da Aliança ou a três alianças. O Antigo Testamento conhece a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a com Israel-Jacó, a aliança no Sinai, a aliança de Deus com Davi. Todas estas alianças têm as suas particularidades próprias, às quais teremos ainda de voltar. Paulo sabe, por isso, que a palavra aliança deve ser pensada e exprimida no plural, a partir da história pré-cristã da salvação; entre as diversas alianças, ele pôs, de modo particular, duas em evidência, contrapondo-as uma à outra, e referindo-as, de forma especial, à Aliança de Cristo: a aliança com Abraão e a aliança com Moisés. A aliança com Abraão, considera-a como a propriamente dita, a fundamental e permanente; por outro lado, a aliança com Moisés, para ele, “interveio” (Rm 5,20) 430 anos depois da aliança com Abraão (Gl 3,17); no entanto, ela não pôde ab-rogar a aliança com Abraão, mas apenas ser um grau intermédio nas disposições de Deus. É um modo da pedagogia divina com os homens, cujos troços de caminhos vão caducando à medida que o objetivo do ensino é atingido. Os caminhos são abandonados, o sentido permanece. A Aliança moisaica ordena-se à de Abraão, a Lei torna-se um meio da promessa. Desse modo, Paulo pôs em evidência, de forma muito clara, dois modos de aliança, que encontramos, de fato, no Antigo Testamento: a aliança que é uma norma jurídica, e a aliança que é essencialmente promessa, dom de amizade oferecido sem condições. No Pentateuco, de fato, o termo berith é frequentemente sinônimo simplesmente de lei e mandamento. Uma berith é ordenada; a aliança no Sinai aparece, em Ex 24, efetivamente, como “uma imposição de mandamentos e deveres para o povo”. Tal aliança pode ser rompida; a história de Israel aparece no Antigo Testamento, continuamente, como uma história da Aliança violada. Mas, em si mesma, a aliança com os patriarcas tem um valor eterno. Enquanto a aliança de deveres reproduz o contrato de vassalagem, a aliança da promessa tem por modelo a doação real. Nessa medida, Paulo, ao distinguir a aliança de Abraão e a de Moisés, interpretou de forma inteiramente correta o texto da Bíblia. Mas com essa distinção, superou, ao mesmo tempo, a forte oposição entre antiga e nova Aliança, exprimindo uma unidade em tensão de toda a história, na qual se concretiza, através das duas alianças, a única Aliança. Quando assim é, não se pode opor, de modo algum, o Antigo e o Novo Testamento como duas religiões diferentes. O desígdesígnio de Deus para com os homens é um só, e apenas um é o agir de Deus com os homens, mesmo que se realize através de diferentes intervenções, em parte mesmo opostas, mas, na verdade, intimamente ligadas. A ideia de Aliança nos textos da última ceia Com a reciprocidade entre multiplicidade de alianças e unidade da Aliança, chegamos ao núcleo do nosso tema. Temos de avançar cuidadosamente, pois os hábitos profundamente enraizados do pensamento quer judaico quer cristão são postos em questão e, iluminados pelos testemunhos bíblicos originários, têm também, em parte, de ser corrigidos. Decisivos, para a justa determinação do conceito neotestamentário de Aliança, são os relatos da última ceia. Representam, por assim dizer, a contrapartida neotestamentária para a história da conclusão da Aliança no Sinai (Ex 24), e fundamentam, assim, a convicção cristã da nova Aliança, que foi concluída em Cristo. Não necessitamos, aqui, de entrar em complicadas discussões exegéticas e, de resto, sempre litigiosas nos seus resultados, sobre a relação entre texto e acontecimento, sobre a evolução dos textos e a sua relação cronológica uns com os outros; procuremos apenas investigar o que afirmam os textos, tal como estão, no que diz respeito às nossas questões. É incontestável que os quatro relatos de instituição da Eucaristia (cf. Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,15-20; 1Cor 11,23-26) podem ser repartidos, segundo a sua estrutura linguística e a teologia aí expressa, em dois grupos: a tradição de Marcos e Mateus e a que encontramos em Paulo e Lucas. A diferença principal entre as duas encontra-se na expressão acerca do cálice. Em Mt e Mc, diz-se sobre o conteúdo do cálice: “Este é o meu sangue, sangue da Aliança, que vai ser derramado por muitos”; Mateus acrescenta ainda: “Para remissão dos pecados”. Em Lucas e Paulo, porém, o conteúdo do cálice é assim denominado: “Este cálice é a nova Aliança no meu sangue”. Lucas acrescenta: “Que por vós vai ser derramado”. “Aliança” e “sangue”, do ponto de vista gramatical, ordenam-se de forma inversa. Em Mt-Mc, o dom do cálice é o “sangue”, que em seguida é descrito como “sangue da Aliança”. Em Paulo-Lucas, o cálice é a “nova Aliança”, que ele estabeleceu “no meu sangue”. Como segunda diferença, podemos observar que apenas Lucas e Paulo falam da nova Aliança. Como terceira diferença, importante será mencionar que só Mt e Mc utilizam a expressão “por muitos”. Ambas as linhas de tradição se baseiam nas tradições veterotestamentárias da Aliança, mas escolhem diferentes pontos de partida. Assim confluem, no conjunto das palavras da última ceia, todas as noções essenciais de aliança, e fundem-se numa nova unidade. De que tradições se trata? A palavra cálice, em Mt e Mc, é tirada diretamente do relato da conclusão da Aliança no Sinai. Moisés asperge com o sangue do sacrifício, primeiro, o altar, cuja presença representa simbolicamente o Deus escondido e, depois, o povo, pronunciando na ocasião: “Este é o meu sangue da Aliança, que o Senhor concluiu convosco mediante todas estas palavras” (Ex 24,8). Representações ancestrais são aqui retomadas e levadas a um plano superior. G. Quell definiu assim a noção arcaica de aliança, tal como ela aparece na história dos Patriarcas: “… estabelecer uma aliança significa não só contrair um vínculo de sangue com um estrangeiro, como também chamar o parceiro à própria associação e, desse modo, entrar com ele numa comunidade de direito”. O parentesco fictício que, desse modo, é criado “torna os participantes irmãos da mesma carne”. “A aliança opera uma totalidade que é a paz”, isto é, Shalom. O rito do sangue no Sinai significa que Deus, através do caminho do deserto, faz a mesma coisa com esses homens que, até então apenas diferentes comunidades tribais, haviam feito umas com as outras: Ele empenha-se num misterioso parentesco de sangue com os homens, de tal modo que agora Ele lhes pertence e eles a Ele. É claro que o parentesco assim estabelecido, que agora nasce paradoxalmente entre Deus e os homens, é, no seu conteúdo, caracterizado pela palavra de que se faz a leitura, o livro da Aliança. Mediante a apropriação dessa palavra – viver dela e com ela – nasce o parentesco, representado, no culto, pelo ritual do sangue. Quando Jesus, apresentando o cálice, diz aos discípulos: “Este é o meu sangue da Aliança”, as palavras do Sinai são intensificadas até um realismo extraordinário, e, ao mesmo tempo, abre-se uma profundidade até então imprevisível. O que aqui tem lugar é, simultaneamente, espiritualização e supremo realismo. Porque a comunhão sacramental do sangue, que se torna agora uma possibilidade, liga os que o recebem ao homem corporal Jesus e, ao mesmo tempo, ao seu mistério divino, para formar uma comunhão supremamente concreta, que vai até a esfera corporal. Paulo descreveu esse novo “parentesco de sangue” com Deus – que nasce da comunhão com Cristo – numa comparação audaciosa e drástica: “Não sabeis que aquele que se junta com a prostituta se torna um mesmo corpo com ela? Porque ‘serão dois numa só carne’, como diz a Escritura [Gn 2,24]. Aquele, porém, que se une ao Senhor constitui, com Ele, um só espírito [pneuma]” (1Cor 6,18). Nesta palavra, porém, torna-se claro também um modo de parentesco totalmente outro. A comunhão sacramental com Cristo e, assim, com Deus, tira o homem do seu mundo próprio, material e passageiro, e arranca-o daí para elevá-lo e fazer penetrar no ser de Deus, que o Apóstolo exprime com a palavra pneuma. O Deus que desceu faz o homem elevar-se ao que lhe é mais próprio e lhe é novo. O parentesco com Deus significa um grau novo e profundamente modificado da existência para o homem. Mas como é possível essa comunicação do próprio Jesus aos homens? Vimos que, na Aliança no Sinai, é pela recepção da palavra da ordem jurídica de Deus que se realiza a inclusão no seu ser. Disso não há menção nos textos da última ceia. Em seu lugar, encontramos a palavra que, evocando Is 53, recorda o cântico do servo de Deus: “… que foi derramado por muitos”. Desse modo a tradição profética interpreta a tradição do Sinai. Jesus acolhe o destino dos outros no seu próprio destino, vive para eles e morre por eles. Com os Padres da Igreja, podemos, aqui, ir serenamente para além dos dados diretos no texto, sem perder a orientação profunda do seu sentido. Na morte de Cristo, chega apenas à plenificação o que tinha já começado na encarnação. O Filho assumiu o ser homem e levou-o de novo a Deus: “Não quiseste sacrifício nem oblação, mas preparaste-me um corpo… Eis que venho” (Hb 10,5-7; Sl 40,7-9). A partir dessa entrega a Deus, agora o seu “sangue” retorna aos homens como sangue da Aliança. A carne é palavra, e a palavra torna-se carne no ato de amor, o qual é o verdadeiro modo de existência divina, e que, a partir da participação no sacramento, deve tornar-se o modo de existência dos homens. Para a nossa questão sobre a natureza da Aliança, o importante é: a última ceia entende-se como conclusão da Aliança e, de fato, no prolongamento da Aliança no Sinai – a qual, aqui, surge não anulada, mas sim renovada. A renovação da Aliança, que, desde os tempos mais remotos, era um elemento essencial na liturgia de Israel, alcança aqui a sua mais alta forma possível. A última ceia seria, a partir daí, mais uma renovação da Aliança; mas na qual o que era, até então, realizado ritualmente recebe, em virtude do poder de Jesus, uma profundidade e densidade nunca anteriormente suspeitadas. A partir daí, pode então entender-se que tanto a carta aos Hebreus quanto o Evangelho de São João (na oração sacerdotal de Jesus), para além da tradicional ligação da última ceia com a Páscoa, tenham estabelecido a ligação da Eucaristia com o dia da expiação, vendo a sua instituição como o dia da expiação cósmica – um pensamento que ressoa também em São Paulo, na carta aos Romanos (3,24s). Temos de lançar, ainda, um breve olhar à tradição lucano-paulina da expressão acerca do cálice. Como já vimos, é aí declarado como conteúdo do cálice, “a nova Aliança no meu sangue”. É, assim, indubitavelmente retomada a linha da tradição profética que converge em Jr 31,31-34, e cujo ponto de partida consiste na palavra: “Violaram a minha Aliança” (v. 32). No lugar da Aliança do Sinai violada, Deus – assim promete o profeta – colocará uma nova Aliança, que não poderá jamais ser rompida, pois ela não mais será proposta ao homem à maneira de livro ou de tábuas de pedra, mas será inscrita no seu coração. A aliança condicional, que dependia da fidelidade dos homens à lei, e assim chegou a ser quebrada, foi substituída pela aliança incondicional, na qual Deus se compromete Ele mesmo, irrevogavelmente. É evidente que, aqui, nos movemos no mesmo âmbito de representação que antes encontramos, na 2a carta aos Coríntios, com o seu confronto das duas alianças. Nas palavras da última ceia, torna-se, porém, mais visível que o Antigo e o Novo Testamento não estão um perante o outro como dois mundos separados, mas que a representação da aliança rompida e da nova, depois de restabelecida por Deus, estava presente na própria fé de Israel. Sob o apelo dos profetas, com a abolição do culto do Templo durante as gerações do Exílio, tal como com os continuados sofrimentos que se lhe seguiram, Israel sabia muito bem que a Aliança não havia sido quebrada apenas uma vez. As tábuas quebradas no sopé do Sinai haviam sido a primeira expressão dramática da Aliança rompida; quando as tábuas restauradas foram, depois do Exílio, perdidas para sempre, tornava-se bem claro que a fatalidade daquela hora havia tomado forma permanente. Israel sabia também que o sempre celebrado restabelecimento da Aliança não podia restaurar as tábuas, as quais apenas o próprio Deus podia conceder e preencher com sua letra, pela sua mão. Contudo, sabia também que Deus não tinha retirado o seu amor a Israel; sabia que o próprio Deus havia restabelecido a Aliança e que a promessa da nova Aliança não era um mero futuro, mas que sempre trouxera em si um presente, por força da inviolabilidade do amor de Deus. Inversamente, deviam os cristãos saber que o caráter definitivo da nova Aliança, que no corpo e sangue de Jesus ressuscitado está perante nós como imperecível, não torna sem importância a sua atitude quando quebram a Aliança. Também na nova Aliança, a restauração da Aliança não se torna supérflua, mas é, antes, exatamente característica dela. A repetição da disposição das palavras da última ceia – expressão da conclusão da Aliança – significa que a nova Aliança se apresenta aos homens, sempre de novo, na sua novidade; que ela permanece sempre nova, e como nova é sempre a mesma e única Aliança.
III. CONCLUSÕES
Após essa tentativa para pôr em evidência, na teologia paulina da Aliança e nas palavras da última ceia, os elementos fundamentais da noção neotestamentária de Aliança, temos, nesta última seção – como síntese do todo –, de clarificar as respostas que se podem obter às duas questões principais que se colocaram ao percorrer os textos. Como se relacionam entre si as diferentes alianças e, em especial, como se situa a nova Aliança perante as alianças que encontramos na Bíblia de Israel? Como responder agora, em definitivo, à relação entre Testamento e Aliança, à questão do caráter unilateral e bilateral do acontecimento? 1. Unidade da Aliança e multiplicidade de alianças Na base da teologia paulina, assim como das palavras da última ceia, a tradição cristã seguiu, em geral, o esquema das duas Alianças, a antiga e a nova. Esse contraste caracteriza-se por uma série de antíteses. A antiga Aliança é particular, referida à descendência de Abraão segundo a “carne”. A nova Aliança é universal, orientada para todos os povos. A antiga Aliança baseia-se, por conseguinte, num princípio de descendência; a nova, ao contrário, num parentesco espiritual, fundado no sacramento e na fé. A antiga Aliança é aliança condicional: dado que se funda na observância da lei e, portanto, está essencialmente ligada ao comportamento dos homens, ela pode ser quebrada, e o foi de fato; porque o seu conteúdo essencial é a lei, ela encontra-se na fórmula: se fizeres isto… Esse “se” inclui a inconstante vontade humana na natureza da própria Aliança, e dela faz, assim, uma aliança provisória. Ao contrário, a Aliança selada na última ceia surge, segundo a sua natureza íntima, nova no sentido da promessa profética: não é um contrato condicionado, mas um dom de amizade oferecido de forma irrevogável. No lugar da lei apresenta-se a fé. A redescoberta da teologia paulina durante a Reforma salientou precisamente esse acento, com uma força particular: não as obras, mas a fé; não ações dos homens, mas livre disposição da bondade divina. Com isso, sublinhou ainda com força não se tratar de “aliança”, mas de “testamento”, de uma pura iniciativa de Deus. O lema da eficácia única de Deus, as expressões com solus (solus Deus, solus Christus…) devem ser entendidas nesse contexto. Que dizer a isso, à luz do que foi refletido até aqui? Parece-me que foram tornados claros dois fatos, que completam o que essas antíteses têm de unilateral e tornam visível a unidade interna da história de Deus com os homens, tal como se apresenta em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Antes de mais, é necessário lembrar que a aliança fundamental – com Abraão – indica uma direção universalista e deita um olhar, antecipadamente, sobre todos aqueles que devem ser dados como filhos a Abraão. Paulo viu, de maneira inteiramente justa, que a aliança de Abraão associava em si mesma os dois elementos de universalidade intencional e do dom livre. Desse modo, a promessa de Abraão garante, desde o início, a continuidade interna da história da salvação, desde os Pais de Israel até Cristo e à Igreja dos judeus e pagãos. Quanto à Aliança do Sinai, é necessário uma vez mais diferenciar. Ela refere-se, estritamente, ao povo de Israel; dá a esse povo uma ordem jurídica e cultual (as duas coisas são inseparáveis), que, enquanto tal, não pode, simplesmente, ser alargada a todos os povos. Dado que para ela essa ordem jurídica é constitutiva, o “se” da lei observada faz parte da sua natureza, e, nessa medida, ela é condicional, o que significa também temporal – uma fase das disposições de Deus que tem o seu tempo. Isso foi claramente posto em relevo por Paulo, e nenhum cristão o pode revogar; a própria história confirma essa perspectiva. Com isso, porém, não está tudo dito acerca da Aliança moisaica e sobre o “Israel segundo a carne”. Porque a lei não é apenas – como o pensamos ao acentuar unilateralmente as antíteses paulinas – um fardo imposto. Segundo a perspectiva dos crentes veterotestamentários, a própria lei é a figura concreta da graça. Porque é graça conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus significa conhecer-se a si mesmo; significa compreender o mundo; significa saber para onde se vai. Significa que somos libertos das trevas das nossas infinitas interrogações, que veio a luz sem a qual não podemos ver e caminhar. “A nenhum outro povo anunciaste a tua vontade.” Para Israel, em todo o caso, nos seus melhores representantes, a lei é a manifestação da verdade, a manifestação da face de Deus e a possibilidade de viver retamente. Pois esta é a questão de todos nós: Quem sou eu? Para onde vou? Que devo fazer para que a minha vida seja reta? O hino à Palavra de Deus que encontramos no Sl 119 (118), em contínuas novas variações, é expressão dessa alegria de ser salvo, a alegria de conhecer a vontade de Deus, que é a nossa verdade, o nosso caminho, e, portanto, o que todos os homens procuram com o olhar. A partir daí, compreende-se o que São Paulo quer dizer quando, em Gl 6,2 – no seguimento da esperança messiânica judaica –, fala da Torá do Messias, da Torá de Cristo. Também segundo Paulo, o Messias, Cristo, não faz os homens sem lei e sem direito. Característico do Messias, como maior que Moisés, é, antes, que ele traga a interpretação definitiva da Torá, na qual a própria Torá é renovada porque agora surge na sua pureza a sua verdadeira natureza, e o seu caráter de graça torna-se inconfundível realidade. Por isso, diz H. Schlier, no seu comentário à carta aos Gálatas: “A Torá do Messias Jesus é de fato uma ‘interpretação’ da Lei moisaica… uma ‘interpretação’ mediante a Cruz do Messias Jesus”. A sua autoridade “traz à luz a lei, em sua palavra constitutiva, como interpelação originária e vivificante, daquele que a levou ao pleno cumprimento”. A Torá do Messias é o Messias, o próprio Jesus. A ele se refere agora a palavra: “Escutai-o”. Desse modo, se torna a “lei” universal, assim é Graça, assim funda um povo que se torna povo pelo ouvir e converter-se. Nessa Torá, que é o próprio Jesus, aparece inscrito, em carne que é viva, o que permanece essencial das tábuas de pedra do Sinai: o duplo mandamento do amor, que desabrocha na disposição de Jesus (Fl 2,5). Imitá-lo, segui-lo, é, portanto, observação da Torá, a qual nele mesmo se cumpriu de forma irrevogável. Assim é, de fato, superada a aliança do Sinai; mas, enquanto o seu caráter provisório é suprimido, aparece o seu caráter verdadeiramente definitivo; o que tem de definitivo é trazido à luz. Por isso, a expectativa da nova Aliança – que ressalta, com clareza sempre crescente, na história de Israel – não é contra a aliança do Sinai, mas corresponde à dinâmica da expectativa que nela mesma está contida. A Lei e os profetas não se encontram, considerados a partir de Jesus, em oposição mútua, mas o próprio Moisés – como o vê o Deuteronômio – é profeta, e só se entende retamente quando é profeticamente compreendido. “Testamento” e Aliança A questão de saber se se trata de Aliança ou Testamento, de um acontecimento bilateral ou de uma disposição unilateral, liga-se estreitamente à questão da diferença entre a Aliança de Cristo e a de Moisés. Na sua estrutura fundamental, todos os tipos de aliança que encontramos no Antigo e no Novo Testamento aparecem, antes de mais, como assimétricas, como disposições do suserano, não como acordo entre dois parceiros com idênticos direitos. A lei é disposição pela qual o rei vincula os vassalos, constituindo-os como tais; a graça é disposição livremente oferecida, sem méritos anteriores. A ideia da unilateralidade do Testamento corresponde, sem dúvida, ao pensamento da grandeza e soberania de Deus; mas é também condicionada por uma estrutura social. Os dominadores do Antigo Oriente apenas agem de modo unilateral, soberano; ninguém pode estar ao mesmo nível que eles. É, porém, exatamente esse pano de fundo sociológico do esquema assimétrico, que é rompido e afastado na Bíblia; e, assim, também a imagem de Deus adquire uma nova forma. Deus dispõe, mas há, praticamente desde o início, um compromisso tomado por Deus, através do qual nasce algo como que uma parceria. Santo Agostinho salientou, de forma muito bela, esse aspecto, ao dizer: “Fiel é Deus, que se fez nosso devedor, não como se tivesse recebido algo de nós, mas porque muito nos prometeu. A promessa era muito pouco para ele; também queria comprometer-se por escrito; ao dar-nos, por assim dizer, uma versão das promessas escrita pela sua mão...”. Quando lemos os profetas, vemos que isso não é concebido como uma atuação puramente exterior, positiva, mas sim que a fé de Israel reconhece – no fato de que Deus se liga a si mesmo – a própria natureza de Deus; o que é algo de diferente daquilo que se deveria representar a partir da imagem dos soberanos orientais. “Quando Israel era jovem, Eu o amei”, diz Deus, em Oseias, acerca do modo como ele se liga a si mesmo ao povo. Daí resulta, então, devido à sua natureza, que ele não pode, em absoluto, deixar cair a Aliança, mesmo quando esta é continuamente quebrada. “Como poderia abandonar-te, ó Efraim? Como entregar-te, ó Israel?… O meu coração está perturbado dentro de mim, comove-se a minha compaixão” (Os 11,1.8). O que aqui se esboça, em poucos traços, aparece desenvolvido em Ezequiel 16, na grande história de um vão amor, mas indestrutível, e, portanto, em definitivo, de um amor que não é vão. Todo o drama das rupturas de fidelidade, por parte do povo, se conclui com as palavras: “Então deverás lembrar-te de mim e sentir vergonha, e, na tua vergonha, não ousares mais abrir a boca, porque eu te perdoo tudo o que fizeste” (Ez 16,63). Todo esse texto é precedido pela misteriosa história da conclusão da Aliança com Abraão, durante a qual o progenitor, ao modo oriental, partiu a vítima ao meio. Era hábito os parceiros da aliança passarem pelo meio das metades dos animais, o que significava um autoanátema condicional: assim como a estes animais, assim deve acontecer-me se eu romper a aliança. Numa visão, Abraão viu como um forno fumegante e um archote em labaredas – ambas imagens da Teofania – passavam entre as carnes dos animais. Deus sela a Aliança, enquanto se dá em garantia pela sua própria fidelidade com um inequívoco símbolo de morte. Pode, então, Deus morrer? Castigar-se a si mesmo? A interpretação cristã tinha de ver, nesse texto, um sinal misterioso e anteriormente ininteligível, da cruz de Cristo, no qual Deus responde pela indestrutibilidade da Aliança com a morte do seu Filho, e, assim, radicalmente se entrega nas mãos dos homens (Gn 15,12-21). À essência de Deus pertence o amor da criatura, e dessa essência resulta o compromisso de si mesmo, que irá até a cruz. Assim, segundo a perspectiva da Bíblia, o caráter incondicional do agir divino faz agora, justamente, nascer uma autêntica bilateralidade; o Testamento torna-se Aliança. Os Padres da Igreja descreveram essa nova bilateralidade – resultante da fé em Cristo como consumador das promessas – mediante as duas noções de encarnação de Deus e de divinização do homem. O compromisso mesmo de Deus excede o dom da Escritura, enquanto palavra de promessa vinculativa, até o ponto de, assumindo a natureza humana, Deus se ligar na sua própria existência à criatura. Isso significa, então, inversamente, que o sonho humano originário encontra a sua realização, e o homem se torna “como Deus”. Nessa troca de naturezas, que constitui a figura cristológica fundamental, o caráter incondicinal da Aliança divina torna-se uma bilateralidade definitiva. 3. A imagem de Deus e do homem na ideia da Aliança A cristologia surge, assim, como a síntese da teologia neotestamentária da Aliança, sempre fundada na unidade de toda a Bíblia. Essa concentração cristológica, porém, vai para além, necessariamente, de uma pura interpretação dos textos bíblicos; irrompe a questão acerca da natureza do homem e de Deus; torna-se necessário um esforço de compreensão racional. O que significa que a teologia tem de questionar a partir de uma filosofia que lhe seja apropriada. Desenvolver essa questão não é tarefa que, aqui, me pertença. Desejo ainda, muito brevemente, voltar à categoria, que já encontramos como o correspondente filosófico para o tema da Aliança: a relatio. Pois, interrogar a Aliança significa, no fundo, perguntar se há e qual relação pode haver entre Deus e os homens. Verificamos que, segundo concepção antiga, o homem pode colocar-se em relação com Deus pelo conhecimento e o amor; que, ao invés, uma relação do Deus eterno com o homem temporal era considerada contraditória e, portanto, impossível. O monoteísmo filosófico do mundo antigo tinha aberto acesso à fé bíblica em Deus e ao seu monoteísmo religioso, o que parecia tornar, de novo, possível a harmonia perdida entre razão e religião. Os Padres da Igreja, que partiram dessa harmonia entre filosofia e revelação bíblica, tiveram, porém, de reconhecer que o Deus único da Bíblia era, essencialmente, exprimível na sua identidade mediante dois predicados: criação e revelação, criação e redenção. Ambos são conceitos de relação. O Deus bíblico é, portanto, um Deus-em-relação e, nessa medida, em razão da sua identidade essencial, oposto ao Deus filosófico que está encerrado em si mesmo. Não é, aqui, o lugar de seguir o complicado processo do debate espiritual, no qual se tinha de procurar consolidar a reciprocidade entre razão e religião, resultante do pensamento da unicidade de Deus, mas que, agora, ao nível prático, era posta de novo em questão. Apenas desejo, no âmbito do meu tema, afirmar o seguinte: nesse debate, constituiu-se uma categoria filosófica totalmente nova que, para nós, forma a noção fundamental da analogia entre Deus e os homens e o centro do pensamento filosófico: a noção de pessoa. Uma categoria já existente, a de relação, foi fundamentalmente transformada no seu significado. Na tabela aristotélica das categorias, a relação encontra-se no grupo dos acidentes, que remetem à substância e estão na dependência dela; ora, em Deus não existem acidentes. A doutrina cristã da Trindade faz sair a relatio do esquema substância-acidente. Agora, o próprio Deus é descrito como conjunto trinitário de relações, como relatio subsistens. Quando se diz do homem que é imagem de Deus, isso significa que ele é um ser constituído em relação; que, por meio de todas as suas relações e nelas, ele procura a relação que é fundamento da sua existência. A Aliança será, desse modo, a resposta ao homem enquanto imagem de Deus; nela deverá iluminar-se quem e o que nós mesmos somos e quem Deus é. Para ele, que é todo relação, a Aliança não seria, então, algo à margem do seu ser, existindo extrinsecamente apenas na história, mas a manifestação feita de Si mesmo, o “esplendor da sua face”





Comentários